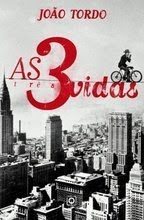Já agora, para quem estiver interessado em vasculhar coisas sobre o autor e suas obras, aqui fica o endereço da página oficial do Paul Auster: www.paulauster.co.uk
A "pérola" do post anterior foi retirada de uma entrevista do autor ao "The Brooklyn Rail", que consta do dito site.
quinta-feira, 25 de novembro de 2004
Apreciem só uma letra escrita pelo Paul Auster sobre o nosso "amigo" George Bush:
King George Blues
O Mr. Bush you scare me so
From the top of your head to your
little toe
You prowl the halls of Texas death row
Only the rich are in the know
(Chorus)
The fat men are in charge
The thin men take the barge
To hell, to hell, to hell
O demon of the hanging chad
How’d you get to be so bad?
You say the others are filled with evil
But you pray at the shrine of the black boll weevil
The fat men are in charge
The thin men take the barge
To hell, to hell, to hell
It used to be we’d never attack
Now our troops march through Iraq
You don’t like a dictator named Saddam?
Just search him out and drop a bomb
The fat men are in charge
The thin men take the barge
To hell, to hell, to hell
O tool of big bucks oil
How you make my blood boil
You stomp the poor and make them toil
For nickels, for pennies, for nothing at all
The fat men are in charge
The thin men take the barge
To hell, to hell, to hell
Paul Auster March 2003
Band: One Ring Zero
terça-feira, 23 de novembro de 2004
A entrevista da VISÃO de 28 /X/04:
O Outono de Mr. Auster
Visitou Lisboa em 1995 e, desde então, guarda o desejo de regressar. Talvez por isso tenha Paul Auster posto Portugal no enredo do seu mais recente romance, A Noite do Oráculo. A anteceder a tradução portuguesa da obra, que no próximo dia 9 será posta à venda, o escritor abriu à VISÃO as portas da sua casa em Nova Iorque. Para falar de livros, de cinema, de política. E da vida que, agora, aos 57 anos, lhe dá uma outra estação
SARA BELO LUÍS / VISÃO nº 608 28 Out. 2004
Ali não há avenidas largas nem arranha-céus. Na 2nd. street de Brooklyn , o ambiente é próprio do bairro residencial que Paul Auster tantas vezes retratou nas suas ficções.
A copa das árvores cobre o passeio e as casas, alinhadas umas às outras, só têm dois pisos. À porta vem SiriHustvedt , a escritora e a mulher que Auster conheceu no dia 23 de Fevereiro de 1981, conforme deixou registado em Leviathan . Logo atrás vem Paul Auster .
E, já durante a entrevista com a VISÃO, há-de vir Sophie , chegada da escola com a mala carregada de livros. A família está preocupada porque Jack , o velho cão de que os leitores incondicionais de Auster também já ouviram falar, caiu das escadas na noite anterior.
Já houve quem por aqui andasse à procura da Nova Iorque do autor, seguindo os indícios por ele deixados na obra.
À esquina da rua onde vive Paul Auster , porém, não existe nenhuma tabacaria como a de Smoke e de BlueinThe Face, os filmes que WayneWang realizou sobre argumentos de Paul Auster . Nem tão-pouco a PaperPalace , a papelaria de A Noite do Oráculo, o seu mais recente romance cuja tradução portuguesa estará disponível nas livrarias já no próximo dia 9 com a chancela das Edições Asa. Nele, o escritor SidneyOrr ainda recupera de uma doença que lhe foi quase fatal quando descobre um caderno de fabrico português que o conduz de novo à escrita. Sob a influência desse pequeno bloco de notas, a personagem escreve na ideia de que o que escreve vai acabar por acontecer. A história de A Noite do Oráculo desenvolve-se depois no sistema de caixas chinesas que Paul Auster tanto aprecia. Do enredo principal ao romance dentro do romance, das notas de rodapé à reprodução de uma misteriosa lista telefónica da Polónia, Portugal surge como um país «perfeito»: «Pessoa é um dos meus escritores preferidos. Deitaram abaixo Salazar e agora têm um governo decente. O terramoto de Lisboa inspirou Voltaire a escrever Candide . E Portugal ajudou milhares de Judeus a fugirem da Europa durante a guerra. É um país bestial.» Parece uma ironia, mas – como adiante se verá – Paul Auster já não visita Portugal desde 1995. Quer voltar. Para, com SiriHustvedt , ir às Janelas Verdes ver os quadros de HieronymusBosh que estão no Museu de Arte Antiga.
VISÃO: A Noite do Oráculo começa com um caderno de capa azul madein Portugal que altera completamente a vida do protagonista, SidneyOrr . Os seus leitores portugueses querem saber – de onde veio este caderno?
PAUL AUSTER: Claro que eles querem saber, mas na verdade não posso dar-lhes uma resposta muito precisa. Pensei pela primeira vez na ideia de escrever um livro sobre um caderno em 1982, justamente o ano em que decorre A Noite do Oráculo. Na altura escrevi algumas páginas que, no entanto, acabaram por ficar de lado à espera do dia certo. Porque é que o caderno é feito em Portugal? Não consigo dizê-lo. Estive em Portugal duas vezes, a última das quais em 1995 e, desde então, nunca mais lá voltei. Achei Lisboa uma cidade extremamente interessante, gostei de passear por Alfama e, se calhar, foi por isso que me lembrei de Portugal. Talvez tenha sido por causa do meu desejo de voltar. Talvez agora seja tempo de voltar.
Há muitas histórias dentro da história principal do livro. Afinal, A Noite do Oráculo é uma história de amor ou um romance sobre o modo como a ficção pode tornar-se realidade?
A história de amor é que é o motor. Depois, ao longo do livro, há muitas digressões, pequenos desvios e alguns atalhos. No entanto, eu não penso em A Noite do Oráculo como uma exploração da imaginação versus realidade. Para mim, A Noite do Oráculo é antes uma meditação sobre o tempo. Se pensarmos bem, há nele muitas referências a acontecimentos históricos, a grandes eventos do passado – há a I Guerra Mundial, a II Guerra Mundial, o assassinato de Kennedy e também a Revolução Cultural na China. Quase tudo no livro é sobre o tempo.
E quando é que decidiu regressar às páginas escritas em 1982?
Os elementos foram surgindo.
À história do caderno juntou-se uma outra história, baseada no episódio Flitcraft de O Falcão de Malta, de DashiellHammett , que era suposto ter sido a base de um argumento para um filme de WimWenders . Contudo, o momento crucial ocorreu mais tarde, em Novembro de 1998. Quando Lulu ontheBridge saiu, fui a Varsóvia para promover o filme. O meu editor polaco disse-me que me queria dar um presente muito especial e ofereceu-me uma lista telefónica de Varsóvia de 1938 onde havia um Auster que, provavelmente, terá sido meu parente. Fiquei muito perturbado com aquela lista de nomes, de milhões de pessoas que, dali a dois ou três anos, teriam morrido.
Tentou encontrar alguma relação com esse Auster ?
Não. Mas o mais espantoso ainda foi quando, no ano passado, fui entrevistado por um jornalista polaco, a propósito do lançamento nos Estados Unidos de
A Noite do Oráculo. Sentado nessa mesma cadeira em que está agora, ele suava e tremia. E disse-me que o casal que eu descrevo muito brevemente, provavelmente familiares de SidneyOrr , eram os seus pais. Fiquei muito inquieto com tudo aquilo. Com tanta gente que há no mundo… Portanto, coisas estranhas continuam a acontecer…
Relacionando as suas últimas obras, tanto David Zimmler , de O Livro das Ilusões, como agora SidneyOrr , de A Noite do Oráculo, estão a tentar refazer a vida.
…E Willy , de Timbuktu , está a morrer. Foi, aliás, por isso que eu comecei a chamar-lhes os meus livros de homens feridos. E há ainda o que acabei de escrever há cerca de um mês, que se chamará TheBrooklyn Folies, cujo narrador tem 60 anos, era mediador de seguros de vida mas agora está reformado, acabou de se divorciar e tem cancro. É um romance… ou uma comédia no sentido em que a maior parte das pessoas é melhor no fim do que no princípio.
E qual a razão desses livros de homens feridos?
Não escrevemos sobre as nossas obsessões? Penso que, provavelmente, é porque estou a envelhecer. Durante anos e anos somos saudáveis e fortes. Depois, a fragilidade do nosso próprio corpo não só se torna evidente como a ideia da nossa própria morte nos aparece muito mais real. Tudo isto me aconteceu depois de atravessar os 50 anos.
Sidney Orr tem uma forma muito obsessiva de escrever. O ambiente de escrita da personagem tem alguma coisa a ver com o ambiente de escrita do escritor?
Tudo em mim é diferente de SidneyOrr . Eu não escrevo assim, eu vivo com as histórias durante anos antes mesmo de as escrever. Além disso, também nunca roubei o corpo de outro para descrever uma personagem…
Quando começa um novo romance conhece-lhe o princípio, o meio e o fim?
Tenho uma noção da trajectória do livro. Mas depois, enquanto escrevo, a história está sempre a mudar. Por exemplo, em O Livro das Ilusões, a ideia original era escrever uma pequena novela sobre David Zimmler e HectorMann e, na segunda parte, falar sobre os filmes. Tudo isso foi mudando imenso durante a escrita, como antes nunca tinha acontecido comigo.
E as personagens?
Habitualmente, as personagens vêm sempre antes. Às vezes, surgem-me e eu não sou capaz de deixar de pensar nelas. Um dia, há uns 15 anos, veio ter comigo um homem de bigode e fato branco – vi logo HectorMann naquele rosto.
De onde lhe vem este interesse pelas histórias dentro das histórias?
Não é a forma que dita o conteúdo do livro. E por isso eu nunca digo para mim mesmo que me apetece fazer histórias encadeadas. Tudo isso se desenvolve organicamente. Também escrevi livros que seguem em linha recta como Mr . Vertigo ou A Música do Acaso.
Em A Trilogia de Nova Iorque havia uma personagem que fingia ser Paul Auster . Agora, em A Noite do Oráculo, o apelido de JohnTrause é um anagrama do seu apelido.
Ele não me representa. Mas veja bem: a história tem dois romancistas, um tem 34 anos e outro tem 56. No fundo, esse período corresponde exactamente à extensão da minha própria vida literária enquanto romancista. Acho que, primeiro, estava a pensar em mim próprio jovem e, depois, em mim próprio velho. Quis enterrar-me algures naqueles livros.
E agora, já se sente mais confortável nos seus 57 anos?
Se me sinto confortável? Sei que o Paul Auster dos 30 anos já não vai regressar.
Durante vários anos, dedicou-se a traduzir livros do francês para o inglês. Encontrou na tradução o prazer do jogo de palavras ou uma outra forma de escrever?
Essa história tem várias etapas. Numa primeira fase, quando tinha 20/30 anos, traduzi muita poesia francesa. E hoje percebo quanto esse exercício me ajudou enquanto poeta. Não há, de facto, melhor forma de compreender um texto que dissecá-lo palavra a palavra, músculo por músculo, osso por osso e, depois, tornar a compô-lo noutra língua. Mais tarde, encontrei na tradução uma forma de ganhar a vida. Mas nestes casos a dor de traduzir livros medíocres era tão grande que o fazia tão depressa quanto possível.
Está a pensar regressar ao cinema?
Nas últimas três semanas tenho estado a trabalhar num guião de um filme de PatriceLeconte . Não vou estar envolvido na produção, mas não consegui recusar uma proposta tão interessante. Normalmente, fico bastante triste depois de acabar um livro e agora, ao terminar TheBrooklyn Folies, entrei numa depressão que me fazia andar às voltas. Sentia-me perdido e, por isso, pensei que talvez fosse bom dedicar-me ao guião.
De que trata esse guião?
De certa maneira, trata-se do filme mais politicamente empenhado que eu alguma vez fiz. Passa-se quase sempre em Queens e o herói da história é um americano de origem árabe, um egípcio. A história gira à volta de todas as dificuldades com que ele se depara no pós-11 de Setembro. É um filme muito oportuno porque fala do que está a acontecer agora nos Estados Unidos. Espero sinceramente que o projecto seja concretizado.
Depois do 9/11, sente que o regresso à normalidade chegou algum dia a ocorrer?
É uma pergunta difícil de responder.
É um facto que as pessoas continuam a acordar de manhã, que os adultos vão trabalhar e que as crianças vão para a escola. E, neste sentido, a vida continuou. Mas, ao mesmo tempo, a atmosfera do país mudou completamente.
Do país ou da cidade de Nova Iorque?
Mais do país do que da cidade. Apesar de ter sido aqui que fomos atacados, penso que não vivemos no clima e no estado de pânico em que vivem muitas outras pessoas no resto do país. Na minha opinião, a administração Bush alimentou essa
atmosfera de medo. E fê-lo de propósito, segundo uma estratégia extremamente perigosa que não nos ajudou – nem a nós nem ao mundo inteiro. Há uns dias, JohnKerry disse qualquer coisa como «gostaria de reduzir o terrorismo», demonstrando que aquela era a forma de encarar os problemas do mundo. No debate de ontem à noite [o último dos três debates entre os candidatos, realizado a 13 de Outubro], Bush gozou com o que Kerry tinha dito, argumentando que o terrorismo tem maior controlo sobre as nossas vidas do que Kerry pensa. E, a meu ver, ele está a empolar o problema.
Há quem diga que a América está completamente dividida e polarizada. Concorda?
Sim, absolutamente. Por um lado, há a parte Norte da Costa Leste, a região dos Grandes Lagos e a Costa Oeste, que são liberais e seculares. Por outro lado, há o Sul, o Midwest e o LowerMidwest , que são muito conservadores e muito cristãos. E o que me preocupa é que a comunicação entre ambos se está a tornar cada vez mais difícil. Estamos a viver uma verdadeira guerra cultural na América.
Não terá sido sempre assim?
Não, nem sempre. Alguém dizia noutro dia que nem no tempo de RonaldReagan , um Presidente que eu odiava, havia tão pouca cooperação no Congresso entre democratas e republicanos. Eles não cooperam, eles não colaboram, eles não conseguem chegar a um consenso. Eles limitam-se a guerrear-se. Do meu ponto de vista, os republicanos mais conservadores levaram tão longe as suas ideias que até demonizaram pessoas que não passam de moderados. Nos últimos quatro anos, vive-se num ambiente assustador neste país.
O que é que lhe parece que vai acontecer a 2 de Novembro?
Tenho esperanças que Kerry vença. Desde o princípio da campanha que acho que ele vai ganhar e, apesar dos momentos difíceis que têm ocorrido, ainda sinto que ele vai ganhar. Ninguém que tenha votado em Al Gore nas eleições de 2000 vai, em 2004, votar em Bush . No entanto, muitas das pessoas que votaram em Bush desta vez não vão votar, pois ele até conseguiu virar contra ele alguns dos republicanos mais tradicionais. Quando viajo, falo sempre com as pessoas para tentar perceber o que é que elas pensam. E tenho encontrado muita gente que sempre votou no Partido Republicano e que, agora, me diz que «só por cima do meu cadáver eu votaria em George W. Bush ». Podemos por isso ter uma grande surpresa a 2 de Novembro.
Acha que JohnKerry é um candidato forte?
À medida que o vou vendo e ouvindo, vou gostando cada vez mais dele. No princípio, não estava muito entusiasmado, embora agora ache que ele se saiu muito bem nos debates. O seu discurso é coerente e parece-me que ele tem uma visão do mundo que não é desprezível. Eu teria adoptado uma posição ainda mais dura, mais à esquerda, mas compreendo que, neste clima particular, a posição de JohnKerry faça mais sentido para a generalidade do povo americano.
Participou em algumas iniciativas de recolha de fundos para a campanha de Kerry . Em sua opinião, qual é o papel dos intelectuais nos dias de hoje?
Também somos cidadãos e, como tal, temos direito de expressar as nossas opiniões. Penso que, em tempos difíceis como estes que estamos a viver, devemos erguer a voz. Esta entrevista, por exemplo, começou por ser uma entrevista literária e, agora, está a fazer-me perguntas políticas. E por isso eu digo o que penso.
Há quem argumente que um escritor deve limitar-se a escrever enquanto que um político deve limitar-se a fazer política.
Às vezes até há escritores que se tornam políticos. E políticos que lêem livros. Em certos países, como Israel, é vital que os escritores tenham voz. As pessoas ouvem David Grossman ou Amos Oz . Imagine-
-se como seria aquele país se homens como estes não tivessem a coragem de escrever e expressar a sua opinião.
Alguma vez pensou em voltar para a Europa?
Às vezes, eu e a Siri [ SiriHustvedt , a mulher] dizemos que, se Bush ganhar, vamos para outro sítio qualquer. Porém, isso não passa de uma brincadeira. Estamos empenhados em ficar aqui. Vivi em França numa época muito especial. Eu era muito novo, estava muito envolvido na política e havia a Guerra do Vietname. Queria escrever, mas não conseguia concentrar-me. E, na altura, pensei que, saindo dos Estados Unidos, talvez pudesse ter a paz necessária para decidir o que queria fazer no futuro. Cheguei à Europa sem saber se era um escritor e voltei para casa com essa certeza.
Sente-se verdadeiramente americano?
Não ponho rótulos em mim mesmo. Vivo aqui, escrevo em inglês e, nos meus livros, falo sobre a América. Este é o meu lugar. Este é o meu mundo. Mas, ao mesmo tempo, não só viajo como estou atento ao que se passa noutros sítios. Acho que todo o americano tem um pé na América e um pé noutro sítio qualquer.
E onde está o outro pé do Paul Auster ?
Sim, talvez esteja algures na Europa. Espiritualmente. [# FimNoticia ]
E de um outro blog (http://memoriavirtual.weblog.com.pt/) encontrei este comentário:
"A NOITE DO ORÁCULO" (I)
Em “A Noite do Oráculo”, Paul Auster prossegue a sua incessante busca do "eu", por via do "outro".
Com uma abordagem recorrente, Auster projecta-se na personagem principal do livro (um escritor) e vai-nos contando histórias dentro de histórias, dentro de histórias!
Introduzindo uma “novidade” (pelo menos com a dimensão que assume nesta obra), as extensas notas de rodapé, completando informação sobre circunstâncias passadas, dando-nos um enquadramento como que num flashback.
O “misticismo” associado ao estranho caderno azul português transporta-nos ao longo de uma história intrigante, complementada pela história do livro que o protagonista tenta escrever, até chegar a um “beco sem saída”.
Tínhamos acordado que assim que fosse publicado o "Oracle Night" do Paul Auster em Português, essa seria a nossa escolha de leitura. Como o prometido é devido, é esse o nosso livro deste mês.
Procurarei, assim que possa, algumas informações complementares na net que colocarei aqui no Blog, como já vem sendo hábito, convidando todas a fazer o mesmo.
Boas leituras!
Como habitualmente, aqui fica o resumo da discussão de "A sombra do vento", de Carlos Ruiz Zafón:
Após o esforço da leitura de “Vermelho”, de Mafalda Ivo Cruz, a opinião generalizada sobre este livro foi que proporcionou uma leitura muito agradável e fluida. Todas reconhecemos que se trata de uma história bem contada, que prende o leitor, e com personagens bem desenvolvidas e muito cativantes. Foram, no entanto, feitos alguns reparos a aspectos menos positivos da obra.
A Rita começou por referir alguma falta de qualidade da tradução, nomeadamente na inclusão de algumas expressões do quotidiano como “é boa como o milho”, que pertencem a um nível de linguagem muito baixo e que, além disso, soam muito inverosímeis em personagens dos anos 50. Outras expressões como “por causa das moscas”, parecem estar demasiado coladas ao original em espanhol, quando, pelo sentido, em português faria mais sentido uma expressão como “não vá o diabo tecê-las”. O original em espanhol está também pejado de expressões populares, pelo que parte do problema não será da tradução mas do próprio texto, que mistura níveis de linguagem muito diferentes. Poder-se-ia dizer que é um dos traços distintivos de uma personagem em particular – o Fermín – que funciona um pouco como a personagem pícara. Não deixa de ser um aspecto que surge referido nas críticas ao livro como um dos mais negativos. A Rita aproveitou para ler algumas passagens de uma crítica que surgiu na imprensa escrita que referia a “linguagem e registo de leitura demasiado fáceis”. Eu, que optei pela leitura da versão original, referi ainda a repetição de alguns vocábulos (como espejismo . miragem, ilusão; e títeres – fantoches) até à exaustão, quando poderiam ter sido utilizados sinónimos. Será talvez uma marca de alguma imaturidade por falta do autor, ou da falta de um bom editor de texto, que facilmente teria notado tal repetição. Quanto ao nível da linguagem, especulámos que seria, de certo modo propositado na medida em que o texto se parece adequar perfeitamente a uma adaptação ao cinema, e esta simplificação da linguagem seria, assim, uma marca de um argumento para um filme destinado a um público alargado. Claro, que há que ter em consideração que, na passagem de qualquer obra literária para argumento cinematográfico, há uma adequação da linguagem (estou a lembrar-me de uma excepção, como a versão de "Romeu e Julieta", de Baz Luhrmann, de 1996, que transpõe a acção para um moderno subúrbio de Verona, mas opta por manter os diálogos originais) pelo que não teria necessariamente que ter lugar na obra escrita. Foi referido, no entanto, que Carlos Ruiz Zafón é também escritor de argumentos para cinema e poderá ter deixado marcas desse trabalho neste livro.
Também em relação ao próprio desenrolar da narrativa foram notadas algumas falhas. A Rosária referiu que Daniel, o protagonista, chegava com demasiada facilidade à informação, com todas as personagens secundárias que encontrava a fornecerem-lhe sem resistência as peças do puzzle com que reconstruiu a trajectória de Julián Carax. A Jennifer afirmou ainda que, muitas dessas personagens referiram eventos e diálogos que não podiam conhecer, como foi o caso da Nuria Monfort ou, principalmente do Padre Fernando, em relação a aspectos da relação entre os outros rapazes do grupo de estudantes do colégio. Também referimos que aquele relato que Nuria faz chegar a Daniel após o seu assassinato é, em termos de estratégia narrativa, demasiado óbvio como forma de completar as lacunas da história.
Referi ainda os pequenos reparos feitos por um leitor que deixou um comentário à obra numa página web: 1º Nessa época ainda não havia Sugus. 2º A linha 5 não chegava ao Hospital Clínico. 3º É impossível demorar 20 minutos para ir da Praça da Universidade à Praça da Catalunha pela Rua Tallers. Quanto ao 2º e 3º reparo, seria necessário conhecer muito melhor Barcelona e a sua história para averiguar da sua veracidade. Quanto ao primeiro, bastou-me colocar “Sugus” no motor de pesquisa Google para descobrir se estava certo ou não. O que descobri ao ler a história dos famosos caramelos de fruta quadradinhos que consta da página da Kraft Foods (www.kraftfoods.ch), a multinacional que os comercializa, foi que a receita original foi inventada pela filial polaca da firma suiça Suchard em 1929. Em 1946 começam a ser exportados para a América do Sul, Ásia e África. Mas só em 1960 começam a ser comercializados em Espanha (tal como em Portugal). Como tal, em 1950s, os famosos Sugus não poderiam estar a ser consumidos pelo Fermín. Claro que todas reconhecemos que são erros muito pequenos e que são apenas curiosidades, embora, com a facilidade de acesso à tecnologia, bastassem apenas alguns segundos para verificar estes dados. À margem deste pequeno reparo, não deixámos de nos espantar com a longevidade de alguns produtos, como os ditos Sugus, ou a Coca-cola, que consideramos imagem de marca da nossa geração, mas que afinal já vêm de muito mais longe.
Algumas leitoras referiram ainda que, a um dado momento da leitura, sentiram algum receio que a narrativa iria “descambar” para uma inverosimilhança total, como o relato na primeira pessoa de Daniel a surgir como uma “voz do além”. Afinal a morte do protagonista foi temporária e é um narrador de carne e osso que nos relata os acontecimentos. Sentimos todas que o artifício era algo forçado. (Uma das leitoras queixou-se ainda que uma “certa” outra leitora lhe tinha estragado o suspense ao contar que Daniel não iria morrer afinal. Tss tss tss!!). Também achámos que a história se resolve demasiado, com direito a happy ending e todos os conflitos a serem solucionados, quer com a morte do vilão (o inspector Fumero), quer com Julián Carax, a personagem mais ambígua, a encontrar um novo sentido para a vida e um motivo para voltar a escrever.
Mas ao contrário do que este resumo pode fazer parecer, o balanço final da leitura foi claramente positivo, com o livro a proporcionar horas (muitas…) de prazer. Gostámos particularmente de algumas personagens, estando a ama Jacinta e Fermín no “top” das preferências. Achámos que todas elas estão bem construídas, sólidas, algumas profundamente trágicas mas que, ainda assim, encontram forças para recomeçar e encarar a vida de frente (como o Fermín). Eu pessoalmente achei que havia um certo maniqueísmo, com a existência de um eixo do bem, protagonizado por Daniel e Fermín, e um eixo do mal, protagonizado por Fumero. A Jennifer discordou, argumentando que algumas personagens evoluem, como o industrial Aldaya, que só vem a manifestar a sua perfídia no momento em que aprisiona a filha Penélope no sótão durante toda a sua gravidez, provocando a morte à mãe e bebé. De facto, há uma galeria de personagens ambíguas como Jorge Aldaya ou, muito especialmente Julián Carax, personagem sombria e autor de actos de banditismo e que encontra um novo sentido para a vida por influência de Daniel, cuja trajectória de vida reflecte a sua (ou será ao contrário?). Também gostámos do cruzar das narrativas; passado e presente a reflectirem-se e a gerarem-se mutuamente, ficção a tornar-se realidade, e com esta a inspirar nova ficção num jogo de espelhos e de encaixes.
Mas os aspectos mais positivos do livro foram, na opinião de todas, as atmosferas criadas, com Barcelona a surgir como uma cidade sombria, envolta em nevoeiro e mistério. Fez-nos recordar, às felizes contempladas que já visitaram a cidade, o bairro gótico em volta da catedral, com as suas ruas estreitas e edifícios antigos e algo lúgubres. Considerámos o romance bastante “visual”, na medida em que esses ambientes foram evocados com muita exactidão. São talvez marcas da tal aproximação ao cinema, que já mencionámos. Gostámos particularmente da descrição da mansão dos Aldaya, “El ángel de bruma”, como ficou conhecida. Remete para as descrições góticas de mansões victorianas e é o palco perfeito para os acontecimentos misteriosos que aí têm lugar. E por último, aquela que consideramos ser a grande “invenção” deste livro, é o “Cemitério dos livros esquecidos”, um edifício fantástico, cujo interior se encontra repleto de passagens e corredores labirínticos, e para onde são enviados todos os livros de colecções particulares cujos donos falecem, acervos abandonados de bibliotecas, livrarias, etc. É uma espécie de depositário de todos os livros que, por uma razão ou por outra, vão caindo no esquecimento. Para além da homenagem óbvia ao conceito de labirinto de Jorge Luis Borges, este espaço adquire um significado extremamente ambíguo. Por um lado ele permite aos seus raros visitantes um processo iniciático na cultura livresca que, como no caso de Daniel, se pode tornar crucial para o seu crescimento enquanto pessoa. Por outro lado, duas palavras no nome do espaço contêm um valor conotativo bastante negativo: “cemitério” e “esquecidos”. Para além dos poucos livros que têm a oportunidade de ser “adoptados” pelos visitantes e assim voltar a ter um outro ciclo de vida, muitos milhares de volumes permanecerão para sempre no esquecimento. Pode ser interpretado como um símbolo do declínio do culto do livro em detrimento de uma cultura áudio-visual muito mais instantânea e fugaz. No entanto, e pela simples existência deste depósito de memórias e de História, há sempre a promessa de que um novo iniciado venha trazer à luz alguma dessas obras esquecidas. Lancei ainda uma proposta às restantes leitoras: de nos dirigirmos a um depositário de livros esquecidos (como um alfarrabista) e adoptarmos cada uma um livro, que estimássemos e guardássemos connosco durante toda a nossa vida. Fica a sugestão.
terça-feira, 19 de outubro de 2004
Aqui fica um comentário que recebi da Ana Cristina:
olá
fui ao site da fnac e está lá, o último livro de Arturo Pérez-Reverte chama-se A Tábua de Flandres. Deste autor acabei de ler O Mestre de Esgrima e gostei muito, é empolgante da primeira à última página. Se o Carlos Ruiz Zafón é um 'herdeiro' do Pérez-Reverte, como diz na contra capa do A Sombra do Vento, então isto promete!
Já agora, e para futura referência, as sugestões de leitura que surgiram na última reunião:
- “As lágrimas da girafa”, de Alexander Mcall Smith
- “Rafael”, de Manuel Alegre
- a última obra de Pérez-Reverte
- “Dias Tranquilos”, de Kenzaburo Oé
- “Os jardins da memória”, de Orhan Pamuk
- “A sombra do vento”, de Carlos Ruiz Zafón
- “Lust” da mais recente laureada com o prémio Nobel da literatura, Elfriede Jelinek
- “As velas ardem até ao fim”, de Sandor Marai
segunda-feira, 18 de outubro de 2004
Tal como prometido, e ainda bem dentro do prazo de validade, aqui fica um resumo da discussão de “Vermelho”, de Mafalda Ivo Cruz, como sempre sujeito às vossas críticas, sugestões e acrescentos (venham eles!!):
Pelos comentários que fomos partilhando ao longo do mês durante a leitura percebemos que o livro não estava a ser muito bem aceite pelas leitoras e que a discussão prometia ser arrasadora. E, de facto, assim foi, com quase toda a gente a declarar abertamente ter detestado o livro e tendo mesmo havido uma das leitoras que se recusou a ler mais do que metade do mesmo, por opinar que não valia a pena perder mais tempo com a sua leitura.
Algumas leitoras manifestaram a opinião que a autora não soube contar uma história e que nem sequer escrevia bem. Algumas terminaram só por “obrigação”, mas fizeram uma leitura corrida, sem se deterem muito nos detalhes, e ficaram, se assim se pode dizer, “imunes” ao livro, não lhes ficou muito da leitura. A nossa estreante, a Rosária, admitiu que se sentiu um pouco assustada durante a leitura, a pensar que seria a única que não estava a perceber grande coisa da obra e com receio de chegar à reunião sem muito para dizer sobre ele. Afinal concluiu que até percebeu minimamente o texto e que desorientação foi geral. Algumas pessoas sentiram necessidade de ir fazendo notas, ou uma árvore genealógica, para irem construindo o sentido da narrativa. Foi o meu caso e o da Guida, que mostrámos ao resto do grupo essas anotações.
Apenas a Ana e eu (a Cristina) manifestámos uma opinião mais favorável do livro. A Ana reconheceu que lhe deu um certo gozo a leitura, na medida em que gostou de destrinçar o sentido e ir construindo a sua interpretação da história. Foi uma leitura estimulante pelo seu carácter de desafio. Admitiu, porém, uma tendência para gostar do absurdo, e de textos que reflictam a complexidade da natureza humana. Contou ainda uma peripécia curiosa do seu processo de leitura: ela e a Guida foram lendo a obra a par e passo e apoiando-se na interpretação por SMS. Ora aqui está uma utilização criativa das novas tecnologias ao serviço das antigas! Sugeri que se utilizasse o blogue para essas trocas de ideias ao longo da leitura. Eu, pelas mesmas razões da Ana, também não desgostei do livro, e acrescentei que também não opinava que a autora escrevesse mal, embora me tivesse chocado a desarticulação dos vários registos de linguagem presentes no texto. Coabitam na obra um registo mais culto e mais clássico com outro muito mais baixo, que, apesar de coerente com a condição de toxicodependente a morar numa zona completamente degradada do narrador, não se encaixam minimamente. Dá a sensação que a autora pretendeu dar um tom mais contemporâneo à sua prosa, e apenas conseguiu desvirtuá-la. Estabelecemos uma comparação com a prosa de José Luís Peixoto, que utiliza calão e um registo linguístico por vezes muito afastado do normal na literatura portuguesa, mas que o faz de forma magistral, conferindo ao seu universo muito próprio uma coerência e uma eficácia que o torna fascinante.
A Ana avançou com uma teoria de que haveria vários narradores na história e que uns seriam a reincarnação dos anteriores. De facto, além da figura de Afonso de Amadeu ser referida progressivamente como “avô”, “bisavô” e “trisavô”, a palavra reencarnação surge mencionada pela autora, naquela que é, a meu ver, a mais incompreensível passagem do livro, e precisamente a escolhida para a contracapa: “An dich hab ich gedacht [Pensei em ti]. Numa das minhas encarnações de mulher estava sentada com um livro ao colo, um objecto magnífico, mas não lia.” (p. 74). Não interpretei a polifonia do narrador como tendo algo a ver com reincarnação, mas talvez fosse interessante explorar esta hipótese. Para além deste pequeno trecho para o qual não encontro explicação, excepto talvez tratar-se de uma incursão de prosa poética da própria autora, detectei dois narradores distintos: Tito, o narrador de quase todo o livro, e Dária, que assume a narração por momentos e descreve nomeadamente a sua relação com o pai. Quanto a alguma confusão nos parentescos, com as palavras avô, bisavô ou trisavô a surgirem algo indiscriminadamente, penso que só contribui para salientar qual é, a meu ver, a personagem principal desta obra: o sangue. O sangue que corre nas veias destas personagens e que tem a sua génese na figura patriarcal de Afonso de Amadeu. Tal como no Livro do Génesis, citado constantemente, Deus cria o mundo, os animais e os homens, também esta figura de Afonso se recria a si próprio (é mencionado que o seu nome e posição na ilha do Sal são falsos) e é a génese de uma linhagem. A sua amante, Isaura de Jesus Maria, a figura matriarcal por excelência, referida amiúde como a “alma”, viria, um dia após a morte de D. Afonso, a casa os seus filhos António, Leonardo, Gustavo e Sebastião, com as filhas provenientes dos casamentos de Afonso com as Rosas, Alice, Leonor, Ana Luzia e Gervásia. Por outro lado, as crianças não descendentes de Afonso, frutos de aventuras de Isaura com outros homens, despeitada cada vez que Afonso casava com uma das irmãs Rosas, eram mortas com requintes de malvadez. Afonso deixava as crianças viver até aos sete, oito anos e nessa altura enforcava-os, na presença da mãe. Foi o que aconteceu com Josias, Josué, José, Ismael e Saúl, tudo nomes bíblicos e aquela que é chamada a linhagem dos mortos, da qual Tito afirma, já quase no fim do livro, descender. Discutimos sobre se Isaura teria alguma escolha nesses acontecimentos. Concluímos que sim, que faria parte da sua opção de permanecer ao lado de Afonso o facto de prescindir dos filhos que resultassem de ligações com outros homens. Também salientámos o carácter cruel e repugnante destas cenas.
Relacionámos a formação musical da autora com a própria estrutura do romance, que considerámos bastante análoga a uma partitura musical. As frases são, muitas vezes curtas, a sintaxe não segue em muitos casos, as normas, criando uma cadência e uma musicalidade muito própria. Além disso, há refrões, pequenas notas, que se vão repetindo ao longo do texto. Muitas dessas notas recorrentes vão adquirindo sentido à medida que vão surgindo contextualizadas.
Algumas dessas recorrências são muito curiosas, nomeadamente a referência a um pequeno tocador de tambor. Trata-se de uma pequeno participante nas guerras napoleónicas na Rússia, aquando da retirada, que a dada altura adormece no cadeirão de Napoleão. A atitude mais normal, perante tal desrespeito, seria acordar e punir o pequeno. No entanto, e perante a eminência de uma batalha que muito provavelmente terminaria com a sua morte, o imperador decide deixar dormir o menino com uma simples frase: “Laissez-le”. Diz o texto: “Há qualquer coisa de sentença de morte no acto de conceder mais uma noite. Mais quatro ou cinco horas.” (p. 35). A expressão petit tambour surge repetidamente e atribuída a várias personagens, especialmente o pequeno negro albino e Tito. De facto, várias personagens sentem na pele a ambiguidade do acto aparentemente magnânimo de prolongar a vida: a linhagem dos mortos, os pobres meninos a quem era permitido chegar à idade de sete ou oito anos para depois serem enforcados; José, o menino albino, mantido num cativeiro cruel, a quem é providenciado o prazer físico para depois lhe ser negado, fazendo-o morrer de solidão; ou Tito, o narrador, que vive na suspeita constante de que primeiro Nina, e depois Nina e Lena, o querem envenenar. É a morte que paira sobre as personagens e a crueldade do prolongamento das suas vidas sem sentido.
Alguns objectos adquirem especial importância na narrativa. Entre eles está o cadeirão de D. João V, um dos símbolos de Afonso de Amadeu. É neste cadeirão que se funda a sua linhagem, simbolizada pela mancha de urina, esperma e sangue no tecido de Damasco. Outro objecto é o Livro de Assentos, onde D. Afonso inscreve todos os acontecimentos que dizem respeito à família. É associado ao Livro de Génesis da Bíblia, como o início de tudo, a descrição da criação do mundo. D. Afonso inventa-se e inventa um novo mundo. Podíamos acrescentar que qualquer livro de ficção é um Livro de Génesis, na medida em que cria o seu próprio mundo e qualquer escritor é Deus e Senhor dos seus mundos inventados. O puzzle é, a nosso ver, um dos objectos chave para a compreensão do texto. Para além da relevância da própria cena que compõe o puzzle (uma cena de caça, sangue, uma figura feminina algo desenquadrada na imagem), o próprio movimento de construção do puzzle, com as peças a encaixarem progressivamente, é análogo à forma como o romance está construído, com as informações sobre as personagens e suas histórias a surgirem a pouco e pouco. Também o facto do puzzle nunca acabar de ser construído, com Dária a afastar as peças com a mão e a iniciar o processo de sedução da criança negra albina, é sintomático de que a história que está a ser contada também não poderá nunca ser revelada na totalidade, que há espaços em branco que assim continuarão.
A Rosária referiu aquilo a que chamou momentos de lucidez no livro, passagens em que finalmente a história começava a fazer algum sentido e em que parecia que ia tomar um rumo mais bem definido. No entanto, a esses momentos de lucidez sucediam-se necessariamente outros de delírio em que se tornava novamente difícil seguir a linha de raciocínio. A Ana referiu que tudo se tornou mais claro para ela quando se apercebeu que o narrador, Tito, estava constantemente sob o efeito de drogas, havendo assim uma explicação diegética para a forma alucinada de contar.
Foi levantada a questão se a complexidade da obra ao nível da diegese não seria uma forma de colocar o próprio leitor em cheque, se não seria provocatório. Parece ser essa a postura de um certo grupo de escritores que fazem questão de escrever para uma elite. Seria esta também a postura do júri do concurso da APE, ao atribuir o seu prémio de 2003 a “Vermelho”. Associada a esta questão também se referiu o facto da escrita do romance ter sido subsidiada e discutiu-se da legitimidade destes subsídios, como também do subsídio a um filme como o “Branca de Neve”, de João César Monteiro. Tanto eu como a Jennifer defendemos o filme de César Monteiro, de que gostámos bastante. Além disso, a bem da pluralidade e da riqueza da nossa literatura e cinema, não nos pareceu que devessem haver entraves à liberdade dos criadores. Também não nos pareceu mal que fossem escritos livros ou realizados filmes para elites, reconhecendo o direito a existirem produtos para todos os públicos. Tanto mais que os produtos para um público mais generalizado, como livros de autores como Margarida Rebelo Pinto, ou filmes como “Amo-te, Teresa” têm à partida, mais facilidade em serem financiados por meios privados, pois podem gerar mais receitas.
A Rita sugeriu que escrevêssemos um texto a enviar à autora por e-mail com as nossas observações sobre o livro. No entanto, e na medida em que concordámos que seria indelicado enviar um texto muito negativo, tivemos dificuldade em pensar em mais do que uma frase: “Escolhemos o seu livro para discussão num clube de leitura”... Houve ainda um momento perfeitamente hilariante quando nos pusemos a imaginar um texto em que utilizássemos o tipo de construções frásicas que a autora emprega no livro. A Ana saiu-se com algumas frases que levaram o resto do grupo às lágrimas (se te lembrares delas acrescenta, Ana).
No cômputo geral, o livro não recebeu grande aceitação, não proporcionou uma leitura muito agradável a nenhuma das leitoras. No entanto, realçámos a importância de ir conhecendo o trabalho da nova vaga de escritores, pelo que não demos o nosso tempo por desperdiçado.
Depois do ontem tão duramente criticado "Vermelho" (o resumo da discussão está para breve no blogue) foi escolhido por larga maioria como próxima leitura "A Sombra do Vento", de Carlos Ruiz Zafón. Pelas críticas que já li vos digo que promete... Mistério e aventura, um género que ainda estava por incluir na nossa lista. Aqui ficam alguns desses artigos que descobri on-line:
Carlos Ruiz Zafón reivindica en 'La sombra del viento' el retorno a la novela clásica
EUROPA PRESS
El escritor catalán Carlos Ruiz Zafón reivindicó hoy en la presentación de su nueva novela, 'La sombra del viento' (Ed. Planeta), el retorno a la novela clásica y a la vieja usanza, huyendo del tipo de novela "light" que abunda actualmente. Así lo explicó en rueda de prensa este escritor y guionista cinematográfico, que actualmente reside en Los Angeles y que ha publicado anteriormente cuatro novelas de literatura juvenil con gran éxito de ventas. Ruiz Zafón quedó finalista en el Premio Fernando Lara de Novela 2000 con 'La sombra del viento', un relato ambientado en la Barcelona de principios del siglo XX, en el que Daniel descubre la apasionante historia que se esconde detrás de un libro abandonado que su padre le muestra y que cambiará su vida. El autor calificó 'La sombra del viento' como una novela de misterio, de intriga y de aventuras sobre el fondo costumbrista de la Barcelona de los años 50. Además, explicó que el libro incorpora recursos de los que se utilizan habitualmente en el cine con el fin de que el lector se olvide de que está sosteniendo un trozo de papel, y pueda sentir la luz y los sonidos que se esconden en el texto. Carlos Ruiz confesó que, sin ánimo de ser pretencioso, considera que esta es su mejor novela con mucho, y que ha pretendido recrear un universo rico de personajes, de misterio, de aventura y de todo lo bueno que se puede transmitir en un libro.
El autor, que además es guionista de cine, no descartó la idea de trasladar la novela a la gran pantalla, aunque aseguró que la riqueza de un libro no se puede mostrar en un film de ninguna manera. "El guión de cine es como un cubito de avecrem, mientras la novela es el estofado de buey entero", señaló de manera metafórica. Finalmente, Ruiz Zafón reconoció que 'La sombra del viento' es una especie de homenaje a la literatura, ya que es por un libro por lo que el protagonista recupera la imagen de su madre y el sentido de su vida. "Se habla del alma de los libros y el cementerio de libros simboliza la destrucción de la historia y de la memoria que se produce en nuestra sociedad, rendida a los medios audiovisuales y a la cultura comercial", concluyó.
Se comenta por los (ciber) mentideros literarios que "La sombra del viento" fue descartada por los jurados del premio Fernando Lara 2000 pero que uno de los críticos de ese jurado le hizo llegar, casualmente, al propio Lara un ejemplar de "La sombra...".
Se comenta que el señor Lara sugirió que a juzgar por "La sombra del viento" Carlos Ruiz Zafón podría ser presentado como serio candidato al primer premio....
Y claro, los jurados del premio tuvieron a bien la sugerencia de Lara pero se negaron a que Zafón fuese más allá de ser finalista...
Y así fue: ese año se llevó el gato al agua una mujer, Ángeles Caso por su novela "Un largo silencio".
Sin embargo, a día de hoy (tres años después) "La sombra del viento" es todo un fenómeno editorial, uno de los mayores éxitos de ventas a nivel nacional y una de nuestras mejores exportaciones literarias (célebre también el elogio del ministro alemán de Exteriores, Joschka Fischer, en el marco de la Feria del Libro de Francfort).
La pregunta es inevitable:
¿Qué tiene "La sombra del viento" que se ha convertido en imprescindibles para tantísismos lectores?
De entrada es uno de esos libros "raros" que se venden a sí mismos, es decir, que sus ventas no son consecuencia de una promoción milonaria por parte de la editorial (al menos en este caso no durante los dos-tres primeros años) sino que responden a la mejor de las promociones: el boca-oreja de los lectores.
Un amanecer de principios de verano de 1945 Daniel Sempere es conducido por su padre, librero de oficio, al Cementerio de libros Olvidados.
Siguiendo con la tradición de tan peculiar cementerio, el chaval debe adoptar un libro.
Desorientado entre infinidad de volúmenes Daniel acaba responsabilizándose de "La sombra del viento" de un tal Julián Carax. Se lo lleva a casa, se lo lee de un tirón e inmediatamente intenta averiguar más sobre el autor con la intención de leer todo lo que haya escrito...
A partir de aquí Zafón comienza a desgranar toda una trama de intrigas y enigmas que atrapan irremediablemente al lector hasta la última de las quinientas y tantas pàginas casi sin respirar.
La historia (si se pude llamar así) nos pasea por la Barcelonas de Juan Marsé y Eduardo Mendoza, la de la postguerra civil española, por una Barcelona que no acaba de levantar cabeza tras el varapalo de la contienda y aún bajo el control de la conocida "corruptela franquista".
Si me permiten, el corte del libro es casi un guión de cine, ¿a alguien le ha pasado inadvertido que a medida que se avanza en la lectura uno casi se va imagininando la película?
¿Se animarán David Trueba o Mario Camus a llevar el texto a la gran pantalla?
Esperemos que sí.
Pero sigamos.
Si uno consigue parar de leer unos instantes aunque sea para respirar o para ir al "excusado" quizá caiga en la cuenta de que Ruiz Zafón ha echado mano de algunos recursos algo... escabrosamente juveniles. Por ejemplo, magnífico el Cementerio de libros olvidados, pero ¿no parece casi que de buenas a primeras nos va a aparecer (con perdón) un Harry Potter envuelto en su túnica transparente?
Insisto, magnífico el recurso pero quizá excesivamente gótico, romanticoide más que romántico.
De agradecer que se le haya ahorrado la joroba al señor Monfort, vigilante de tan insigne lugar.
El problema (¿el logro?) es que uno no puede dejar de leer, apenas hay respiros para detenerse y reflexionar, para reencajar el puzzle, para cuadrar ideas e impresiones. Tan devotamente se lee que hasta varios días después no se cae en la cuenta de algunos recursos casi facilones de romanticoides e idílicos que son usados por Zafón...
Veamos...
Dos polos: el bien y el mal.
Por supuesto el bien se identifica con Daniel, la principal voz narradora (principal que no única porque estamos ante una auténtica polifonía narrativa), un personaje joven, presumiblemente guapo, fantástica y casi pastelosamente enamorado de una casta (solo al principio) adolescente refinada y etérea que de ningún modo podría dejar de llamarse Beatriz.
Por supuesto el mal se encarna en un personaje ralo, curtido, rencoroso, malhablado... omnipresente y casi casi omnisciente y omnipotente (amén): el policia franquista (sic) señor Javier Fumero.
Y por supuesto, no podía faltar y efectivamente no falta un personaje bisagra, un puente, un contacto entre ambos mundos, una Celestina... sólo que en este caso el amigo Fermín Romero de Torres se sale del perfil y se convierte además de en uno de los pilares del texto (indiscutible), en un personaje entrañable cuyo humor, desfasado a lo castizo, nos enganchará aún más a la hipnótica e insómnica lectura.
De cine (insisto) el desarrollo de un libro dentro de un libro, magnífica base para la espiral de intrigas en la que nos veremos atrapados y que nos mantendrá en vilo, seguro, hasta que, unas páginas antes del final, en la carta de Núria Montfort, hija del vigilante del cementerio, veamos la luz.
Un libro dentro de un libro, una historia dentro de otra, desde "Las mil y una Noches" de Sheretzade hasta "Soldados de Salamina", ¿quien da más?
¿Una historia de amor?
¿Una novela negra?
¿una historia de aventuras?
De todo y más se encuentra en esta novela enorme, completa y correctísimamene ligada, incluso un magnífico y nada disimulado duelo a lo John Wayne algo durillo de leer pero fácilmente imaginable.
Claro, conociendo un par de detalles sobre al vida de Carlos Ruiz Zafón es fácil observar que "La sombra del viento" tiene una clarísisma vocación de guión cinematográfico.. por ejemplo es especialmente curioso el recurso de introducir otras voces que (durante varias páginas) se convierten en narradoras principales.
De buenas a primeras la narración se interrumpe y emergen -en algunas ocasiones no se sabe bien de donde- textos impresos en una tipografía diferente con información fundamental para el desarrollo de la novela... ¿quién no ha interpretado estas incursiones como una voz en off?
A una cierta distancia "La sombra del viento" se ve mejor. Una Barcelona gris, unos personajes que evolucionan (lo que no es nada desdeñable) dentro de sus correspondientes tipologías bueno-malo, una trama de amores etéreos y desamores humanos.. el happy-end no nos lo perdona ni la Madre de calcuta, pero claro... no es cuestión de desvelarlo impúdicamente...
Un libro que casi sin excepción está gustando a todo el mundo y que ha sacado a Zafón de las sombras para plantarlo en medio del altar que todos los editores tienen a la virgen de "Las Ventas"...
¿cuál será su siguiente trabajo?
Ramiro Tomé
info@arquera.com
in Revista de Literatura Pielago.com (www.pielago.com)
Editorial Reviews
From Publishers Weekly
A Barcelona-born novelist based in Los Angeles, Ruiz Zafon was a finalist for the Spanish Fernando Lara de Novela award with this fifth novel. This thriller follows the mysterious disappearance of an author of melodramas, Juli n Carax, and how his book influences the 10-year-old Daniel Sempere. When Daniel visits a mysterious and secret Library of Forgotten Books in 1940s Barcelona and finds Carax's novel The Shadow of the Wind, he becomes obsessed with Carax. For more than a decade, he follows the writer's ghost through a labyrinth of love, sex, violence, friendship, and betrayal. The narration unfolds through an interesting, yet overextended, interplay of overlapping characters and stories. Carax's and Ruiz Zafon's novels blend throughout the story, sometimes misleading the reader but ending in masterfully executed pages. Ruiz Zafon explores the world of antique books, the city of Barcelona, and the animosity inherited from the Spanish Civil War. Some scenes in this thriller also refer to Borges's exploration of libraries, the labyrinth structure, and Arturo P rez-Reverte's study of hypertextuality in works like El club Dumas (The Dumas Club, Suma de Letras, 2000). Although Riuz Zafon uses some complex metaphors to imitate Carax's melodramatic style, his language is mostly clear and accessible to all readers. Recommended for public libraries and bookstores.
Leda Schiavo, Univ. of Illinois, Chicago
Copyright 2002 Reed Business Information, Inc.
domingo, 17 de outubro de 2004
Aqui está um artigo que descobri na net sobre o "Vermelho":
Mafalda Ivo Cruz - Tu, Minha Única Vida!
Por Maria da Conceição Caleiro
Não basta dizer de "Vermelho" que se trata do melhor romance de Mafalda Ivo Cruz, simultaneamente o mais depurado e denso, aquele em que o seu horizonte desde sempre já anunciado se consuma. "Vermelho"é um texto onde linguagem alicerça o seu fulgor que continua para além dele a reverberar, e é talvez um dos mais perfeitos textos da nossa cena literária recente.O narrador fala na primeira pessoa, a um tu, Nina, a mulher, que está grávida: Nina, Bice ( se calhar Beatriz de Dante), a que também é inocente e configura o amor, o nome próprio a quem o próprio amor se dirige, e ainda a Dária, a doce Dária, a mãe, obediente e lânguida que muito amou um menino de 12 anos que lhe traria um filho, o narrador, até à morte daquele, deixado só, o seu menino, o seu amparo; e fala ainda a si próprio num delírio polifónico, numa espiral de vozes que contam a história, retrospectivamente, em convulsão - "A Nina agora. Já não era a Nina. Bice. Era outra".Fala desde o início do mundo, desde a génese da paixão e da morte, de Afonso de Amadeus e da amante negra, do sim e do não inscritos, e denegados, há quatro gerações no Livro de Assentos, no Livro da Criação Tantos enforcados na infância, numa cadeira D. João V onde foi ficando depositado o rastro de vida e morte: o sangue, o sémen, a urina. Os que se desfazem em movimentos que não lhes pertenceram só a eles, mas que duram insepultos, como as almas. Todos com nomes bíblicos: Josias, Josué, José, Ismael, Saul culminam em recorrentes instantes que condensam todas as eras. "E eu, atravessei as eras.(…) E Deus fecundou o damasco, disseste tu.(…) Deus disse; Que se fecundem, que se ataquem, que se devorem.(…)E Deus também disse que tudo morre no fim da sua génese". O narrador grita arrastado num "um vórtice temível de sombras", almas que mesmo assim subsumem todo o livro: "é verdade que às vezes grito. Mas nem sei bem se os meus gritos são audíveis, se são reais. Nem quem grita", nem quem vê em mim o que eu vejo. "Tantos gritam através de mim e morreram calados e já ninguém se lembra deles". "E é verdade que só te tenho a ti embora não saiba em mim quem és tu. Ou se queres a minha morte. Ou se sou eu quem te induz a querer a minha morte. Ou se sou quem te induz através de processos de escuridão. Tu minha única vida".Do delírio polifónico, o texto, das vozes e das visões, dá chaves de leitura, abisma o modo da sua construção, assim como o modo de recepção. Escreve-se: eu vejo, eu sonho, eu imagino: " lá anda ela","vejo, vejo coisas, vejo-as com nitidez", "estou a ver tudo", "vi-te deitada numa cama de palha", "e as imagens sobrepunham-se".E para o fim, a voz parece colher, num sujeito sem sujeito, todas as vozes que fermentavam no seio do sangue, no cio negro da Terra, resgatadas finalmente pela infância sempre por vir."Vermelho" engendra-se num dispositivo de narração assente em cenas inesquecíveis cujos pilares velam e desvelam a história, intensificam-na e esfumam-na; recorrentemente a mesma cena, ou tema, primitivos, que ora se sobrepõem e repetem, musicalmente, ora fazem variar um núcleo que regressa, em movimento perpétuo, balançando-se numa viagem de Inverno entre o inferno e a ascensão, a pureza do cisne, o voo limpo nas águas diáfanas do mar.Como se a cadeia escrita, a linha escrita, fossem mediatizadas pela cena vista que chama outras cenas já vistas, já escritas; as mesmas refundadas que num movimento louco devêm outras. A forma espacial é um lugar de manifestação, e transformação, do sentido. A cena dinamiza-se pela tensão que se instala entre o espaço e o sentido num jogo reiterado de combinações. E uma paisagem torna-se cena através de um olhar que a anima, o do narrador, o da autora que a engendra e que parece nessa modalidade de percepção nela se confundir - "é só uma escuridão que começa a abrir-se e nesse tempo tão curto encontro-te por toda a parte no espaço. E com a minha tesoura corto corto. (…) Perdi a noção do tempo". Alguns exemplos de cenas que marcam o livro e nos marcam: as crianças negras, as crias filhas de Isaura e de outros homens, levadas à forca por vontade de Afonso, "proprietário de almas". "O sadismo aliviava as crises de sadismo do meu avô. Que a Isaura tivesse tido outro amante e aparecesse com uma 'cria' não podia aceitar.(…) Não podia viver sem a Isaura e era uma certeza inconfessável, para ele odiosa, que o feria, o exasperava. E então para resolver aquilo mandava tirar a 'cria'. E a Isaura, de pé, ao lado dele. E a 'cria' oito anos depois, com oito anos de idade. Tinham posto a escada de dois degraus e o cadeirão de damasco debaixo da árvore . E o "Petit Tambour" caiu, morreu". E assim por quatro vezes, a mesma cena a ensombrar, a reacender a narrativa, a disseminar-lhe o sangue e o sémen". Visualmente é como um "crepitar de chamas numa noite de Inverno". Outra cena dura todo o livro, comovida: a do "Petit Tambour", a da criança que adormeceu na cadeira de Napoleão, na retirada da Rússia, em 1812, tanto sangue semeado na neve; e uma criança ausente no sono. E ainda, entre outras: a cena do puzzle, das peças que se fazem e desfazem e refazem noutras, inventadas, num movimento sem fim, tão longe da sua matriz inicial, a promessa sempre diferida. A cena do puzzle é, aliás, emblema de todo o livro. Dária, a mãe, ainda a criada faz ver ao seu menino enclausurado, essa "criança do coração morto", o pai do narrador, o negro albino já quase cego, aquele que morreria de tristeza depois de ela lhe ter sido obedientemente extorquida. Dária dava-lhe a ver as figuras do puzzle, era uma cena de caça: personagens na neve. "a norte, sim, a norte, meu amor. Três homens e um javali morto o sangue a devassar a neve. E uma rapariga vestida de soldado. E o frio.(…) A Dária tirava a mão do peito e aproximava-a das peças do puzzle, lentamente abria a mão. (…) E continuavam os dois a cena de caça e a criança sorria, até que Dária lhe pegava pelos ombros e o deitava no colo dela e lhe fazia festas. (…), e dizia baixo 'meu menino, meu amparo'". E outra vez debruçavam-se sobre a cena de caça. E ela dizia "olha a neve, olha os pinheiros". E ele olhava, olhava, e as peças juntavam-se. As peças. Mas num silêncio tão denso, tão escuro, que o puzzle se tornava numa construção íntima, uma constelação de ansiedades". Era assim, era. "Vês os pássaros a voar?" E ele via. E os pássaros voavam longe, alto, sobre a neve, como num pesadelo. E ele fechava os olhos e acabava por mergulhar no peito da Dária.. Parecia querer dizer coisas como 'Vamos para lá, para a neve, para os pinheiros' mas não dizia. A criança do coração morto já não podia falar e só abria os olhos dificilmente". E ainda outro plano fulgurante, rapidíssimo: a Nina, a que é inocente, o narrador repete-o, numa noite de chuva, numa sessão de cinema ao ar livre, dedicada sobretudo a velhos, em Monsanto, rasga o ecrã com uma pedra que apanha e atira ao rosto de Alexandre Nievsky, uma obra de Eisenstein,. Ao rosto, a esse plano fetiche, emblema de Estaline: o poder carismático. Esse grande plano único, o mal, e depois aliás tudo se alvoraça e uma espécie de revolução nasce, cheia de sangue, um patamar negro que chama. Por último exemplo, último cenário contíguo à pedra lançada à cara de Alexandre Nievsky, algo que trespassa "Vermelho": a imaginação da morte de Nina que imaginariamente também o quereria matar, com venenos - o sangue em espelho a derramar-se, a ir-se só mais tarde lavar no mar, o delírio dentro do delírio, do princípio ao fim, sub-reptício, arcaico, sempre a iminência deste cenário vencido mas reversível "- que é que tem a Nina? - Vai ver. Hesitei. Aproximei-me até ficar junto dela, peguei-lhe nos dois braços, prendi-lhos atrás das costas e de um golpe cerce cortei-lhe a jugular, caiu, lá for a um cão desatou a uivar, o sangue saía-lhe em borbotões do pescoço, ficou caída no chão de olhos abertos e eu só via sangue, sangue. Ajoelhei-me e beijei-a na boca. Agarrei-lhe nos dois braços atrás das costas, a garrafa de água resvalou, caiu no chão, ela não gritou. E de um golpe cerce cortei-lhe a jugular".A campainha em forma de pastorinha que rolou, e caiu da mão do menino do coração morto, a garrafa de água a resvalar e ela não gritou, a pedra lançada para a revolução, e tantos outros filmes sobrepostos."Vermelho" é ancorado em objectos que indiciam: "punctums", pontos de intensidade sublinhada, como nas fotografias, que configuram cenas, pontos de vista no espaço tornado "geometral", objectos que se firmam e assinam um clima que vamos reconhecendo sempre que reaparecem: e reiteram e ao mesmo tempo relançam a cena, acrescentando nesse movimento sempre algo mais ao sentido; e a narrativa ganha velocidade, não cessa de diferir por acumulação de traços mínimos, desmultiplicação de indícios em movimento contínuo, jubilatório, pré-revolucionário. Os objectos: a cadeira, a faca, as meias pretas com uma malha em salto altos, a borboleta de ouro, figura de magia negra, de impostura assim como o quadro de Isaura a veludo verde e cheia de jóias, um quadro falso de Oiseleur figura inventada anos depois por Tito, "com as tuas pernas à volta, e já era meio da tarde e eu fazia-te tranças(…). Assim como fiz retratos teus de todas as maneiras e assinava Oiseleur. Oiseleur e tu rias", e ainda a tal campainha em forma de pastorinha que rolou da mão da criança do coração morto, e caiu.Não podemos esquecer a mestria estilística de "Vermelho", e o modo como essa mesma mestria liricamente derrama o discurso, rodopia, esboça e dissemina o delírio, centra e descentra o núcleo da espiral, controlando-o também a cada andamento, tecendo com ele uma subjectividade a várias vozes, que explora o "emboîtement". Plural num momento, semeando o sangue e os espectros e, depois, por amor, já em paz, se bem que sempre em aberto.Subjectividade que formalmente se inscreve nas frases que alternam cadências maiores e menores, equilibram ritmos, frases que se despedaçam e segmentam, que introduzem rupturas de construção, que deslocam do grupo sintáctico palavras que normalmente dele deveriam fazer parte, ou as isolam, coagulando assim a desmesura, o impoder do pathos aceso.Lemos este livro embalados pela sua própria música, pela cadência que está lá dentro, na sua microfísica, a cada frase, a cada passo e na sua figuração maior, na sua arquitectura - um edifício musical infinitamente relançável estendido até ao mar, prometido na criança que vai nascer.
Mafalda Ivo Cruz
Vermelho
D Quixote
214 pág
quinta-feira, 14 de outubro de 2004
Pois, como terão percebido as mais atentas, este mês estive bastante mais ocupada e não surgiu na devida altura o costumado resumo da discussão do nosso último livro, "A sangue frio" de Truman Capote. Mas como mais vale tarde do que nunca, enchi-me de coragem, puxei da memória de há quase um mês, e dediquei-me hoje a escrever um texto sobre essa dita cuja discussão. Aqui está, necessariamente ensombrada pelo fantasma do esquecimento e, como sempre, aberta a críticas, comentários e acrescentos:
Pela primeira vez no nosso clube de leitura escolhemos um livro que já foi adaptado ao cinema e tivemos hipótese de discutir e comparar os dois registos. O filme foi realizado, por Richard Brooks, em 1967, apenas dois anos após a publicação do livro. Logo às primeiras cenas do filme nos apercebemos da sua qualidade. Para além da excelente fotografia (a preto e branco), agradou-nos a banda sonora de Quincy Jones e as inteligentes passagens entre as cenas. Também o casting nos pareceu bastante bem feito, com os protagonistas a corresponderem exactamente às nossas expectativas após a leitura do livro. De resto, o filme segue escrupulosamente o livro, com apenas uma ou outra novidade no que diz respeito aos diálogos, acrescentando um sentido de humor seco que não se encontrava no livro (também a banda sonora acrescenta um certo estilo às personagens que transcende a crueza documental do livro). Apenas as cenas do tribunal são compactadas, tal como a relação de Perry com o antigo colega do serviço militar. Essa aglutinação foi bem vinda por algumas leitoras que admitiram ter sentido nesse ponto da leitura que a história se arrastava tornando a leitura mais monótona. Outras, como a nossa advogada, talvez por uma questão profissional, tiveram pena de que os aspectos processuais tenham sido omitidos. De facto, esse corte faz com que se dilua no filme a empatia face aos protagonistas devido às evidentes falhas quer da polícia aquando dos interrogatórios, quer da defesa em tribunal, e consequente inevitabilidade da condenação à morte. Concordámos que o filme pouco acrescenta ao livro em termos de argumento, seguindo-o quase à letra, o que, por um lado foi uma surpresa agradável para quem tinha acabado de ler o livro e pode depois apreciar uma “ilustração” do mesmo, mas por outro lado surpreende também pela negativa na medida em que geralmente os filmes baseados em obras literárias apresentam outras leituras, outros pontos de vista, tornando-se independentes do livro que lhes esteve na origem. Em todo o caso, concluímos que, se houve de facto rigor documental na composição do livro, então o próprio filme também se aproxima do género do documentário, pelo que se poderá justificar a ausência de liberdade em termos de argumento.
Passámos em seguida à discussão do livro. A primeira questão levantada prendeu-se com a factibilidade ou ficcionalidade da obra. “A sangue frio” inaugura um género literário, o romance não-ficcional (non fiction novel), apesar de outros autores já terem escrito reportagens em jeito de romances, como John Hersey, Rebecca West, Lilian Ross ou Joseph Mitchel. De acordo com declarações do próprio Truman Capote, o romance constituirá uma reconstituição perfeitamente escrupulosa dos factos. É certo que Capote conviveu intimamente com os assassinos, com os investigadores da polícia e com as outras pessoas envolvidas nos factos durante seis anos. Segundo um artigo que lemos, Capote terá lido uma notícia de jornal sem grande relevo relativa ao crime e terá partido para Holcomb para fazer uma reportagem sobre o pânico que se abateu sobre a pequena comunidade após o crime. Vencida a resistência inicial, nomeadamente de Alvin Dewey, um dos agentes da polícia encarregados da investigação, em dar entrevistas, Capote foi recolhendo um grande volume de depoimentos. A grande viragem deu-se com a prisão dos suspeitos e sua subsequente confissão. O âmbito da reportagem foi assim alargado e o jornalista iniciou um contacto com os assassinos que se manteve até à sua execução, sendo que, a pedido dos condenados, assistiu à mesma. A uma dada altura levantou-se-lhe um problema ético: deveria publicar a sua obra antes ou depois da morte dos condenados? Se por um lado sofreu algumas pressões editoriais para publicar antes, por outro lado sabia que a questão só teria fim após a sua morte. Acabou por esperar pela execução da sentença, após a qual partiu para Nova Iorque, alegadamente bastante combalido com a morte de Dick e Perry, a quem acabou por se afeiçoar, e passados dois anos publicou a obra que lhe trouxe o êxito. Em relação à factibilidade ou ficcionalidade da obra, dificilmente podemos chegar a alguma conclusão pela sua leitura e sem conhecimento dos factos. Por um lado, temos a informação de que a investigação foi exaustiva e que Capote conheceu bem as personagens que descreveu. Por outro lado, considerámos a descrição tão pormenorizada e as personagens tão bem construídas que temos dificuldade em aceitá-las como reais e não como produtos da imaginação do autor. Ou seja, acaba por ser a sua total verosimilhança que as torna ficcionais. Não deixa de ser curioso que a minúcia com que é apresentado o perfil psicológico das personagens possa contribuir para que o leitor as reconheça como ficcionais. Dificilmente alguém conseguiria fazer uma tal reconstituição da mente de outra pessoa real, o que diz algo sobre a complexidade da pessoa humana e a incapacidade inerente que temos em comunicar emoções.
Se é certo que Capote tenha tido oportunidade de entrevistar exaustivamente Dick e Perry e os agentes policiais, no que diz respeito às vítimas do crime, à família Clutter, isso já não é verdade, na medida em que, quando o jornalista chega a Holcomb, o crime já está consumado. E, no entanto, a densidade dessas personagens é tal que, novamente, temos dificuldade em aceitar que não sejam ficção. Estabelecemos uma comparação com as personagens de um dos últimos romances que lemos, “Middlesex”, que sendo ficcional e de acompanhando a biografia das suas personagens ao longo de décadas, não consegue nunca dar a densidade psicológica às personagens como o consegue Truman Capote em “A sangue frio”.
Outra questão que se levantou, e ainda relacionada com a anterior, foi a questão da literariedade da obra. Pode uma peça jornalística ser considerada literatura, por muito bem escrita que esteja? O que define então uma obra literária? E onde se estabelecem os limites? Uma obra literária é, em definição simplista, um texto escrito com reconhecido valor estético. Algumas leitoras manifestaram a opinião de que, apesar da história estar muito bem contada, é simples e sem grandes artifícios em termos de linguagem, e que, como tal, talvez não pudesse ser considerada literatura mas apenas uma boa reportagem. Há que ter em conta, porém, eventuais falhas da tradução em transmitir o ritmo do original em inglês. Por outro lado, a qualidade literária não se reflecte apenas no nível de linguagem, que pode ser bastante simples (e até o é em muita da literatura contemporânea), mas na cadência, na musicalidade ou na eficácia em evocar emoções no leitor. E onde, a meu ver, esta obra se mostra magistral, em termos literários, é na estratégia narrativa que utiliza em termos de focalização. Não temos uma figura de narrador enquanto personagem que interage com as outras personagens, como sabemos que foi o caso do escritor em relação às pessoas retratadas, o que aliás se coaduna com o estilo jornalístico. O que foge completamente ao género jornalístico clássico é a focalização interna da narrativa em várias personagens ao longo do romance. O autor vai-nos apresentando o ponto de vista de cada uma das personagens, começando nas vítimas e passando pela população amedrontada e desconfiada, pelos agentes da polícia e pelos próprios assassinos. E é essa capacidade de se colocar na mente dos vários intervenientes, fazê-lo com total verosimilhança e articular esses fragmentos de vida humana num todo coerente e equilibrado que transforma, a meu ver, este relato em grande literatura.
Ainda no que diz respeito à aproximação à reportagem jornalística e à isenção que pressupõe, torna-se claro desde muito cedo na obra a empatia sentida pelo escritor por Perry Smith, que apesar de ter perpetuado na realidade todos os assassinatos, é apresentado como uma personagem muito mais complexa e humana, para além dos seus antecedentes familiares nos levarem a compreender um pouco melhor os seus actos. Não temos, então, aqui jornalismo isento e objectivo. A questão é se pode existir jornalismo isento e objectivo e se é desejável que assim o seja. As ilusões de que se possa noticiar o que quer que seja sem denotar um ponto de vista já terão acabado. Sabemos que é impossível e o que esperamos é ser confrontados com o maior número de perspectivas possível, para que possamos formular opiniões de forma fundamentada. “A sangue frio”, apesar da preferência nítida por uma personagem em particular, consegue conter em si um diálogo plural entre todas elas. Torna o leitor consciente da perigosidade de formar juízos de valor apressados face aos factos mostrando o lado humano dos psicopatas, mas, por outro lado, não nos deixa esquecer as vítimas dos seus crimes, apresentadas também em toda a sua dimensão humana de sujeitos projectados no futuro e que se vêm, inexplicavelmente, privados deste.
Discutimos ainda aquele que acaba por se destacar como um dos temas principais da obra: a pena de morte. Apesar de todas se manifestarem contra, mais que não seja porque um único caso que seja de condenação de um inocente coloca em causa todo o sistema, acabamos por compreender a hesitação em atribuir uma pena de prisão perpétua num sistema em que, tal como mencionado no livro, passados sete anos os prisioneiros sejam normalmente colocados em liberdade condicional, o que obviamente seria de uma grande injustiça perante crimes com a gravidade deste. Uma maior severidade no cumprimento das penas relativas a crimes de grande violência é talvez a forma de evitar a legitimização da prática da pena de morte.Discutimos ainda os aspectos processuais descritos no livro e a forma como foram negadas aos detidos uma série de direitos, desde a forma como os interrogatórios foram conduzidos, sem a presença de um advogado e recorrendo a grandes pressões psicológicas de forma a obter a confissão dos crimes, até às falhas da defesa em tribunal, que se mostrou amorfa e sem capacidade de denunciar esses atropelos aos direitos dos arguidos. Lembrámo-nos da lista de direitos que é lida na altura das detenções e que ouvimos com frequência nos filmes americanos. A obrigatoriedade da leitura desses direitos terá surgido na sequência de um processo mal conduzido e que levou à abstenção de um réu, português, o Ernesto Miranda, em apelo ao Supremo Tribunal. Desde então, 1966, os agentes da polícia lêem o “Miranda Warning”, que aliás já temos disponível no nosso blogue, no post anterior. Esta data é, no entanto, posterior ao caso de Dick e Perry, pelo que não terão tido conhecimento dos seus direitos.
Em traços gerais foi esta a discussão suscitada pelo livro, bastante profícua, e em que ficou a ideia de que é bastante interessante confrontar os livros com as adaptações ao cinema, quando estas existem.
segunda-feira, 20 de setembro de 2004
Encontrei a lei de que falavamos ontem e não se chama Macedo mas sim Miranda, portanto “Miranda Warning”. Pela data em que foi, parece que nem o Dick ou Perry beneficiaram dela. Transcrevo (em inglês) em baixo, uma explicação simplificada do aparecimento da lei. Quem quiser mais detalhes pode clicar no link em baixo.
http://www.crimelibrary.com/notorious_murders/not_guilty/miranda/3.html?sect=14
United States—Laws and Rights
You Have the Right
In most cases, before making an arrest a police officer must read this list of rights to the suspect. It is called the Miranda warning because of the 1966 Supreme Court decision, Miranda v. Arizona. When Ernesto Miranda was arrested and questioned by the police, the information he gave them was used against him at his trial. This was a direct violation of the Fifth Amendment of the Bill of Rights. Miranda appealed, claiming that his rights were violated. The Supreme Court agreed; since then, in most cases people are read the Miranda warning upon arrest.
Miranda Warning
You have the right to remain silent and refuse to answer any questions.
Anything you say may be used against you in a court of law.
As we discuss this matter, you have a right to stop answering my questions at any time you desire.
You have a right to a lawyer before speaking to me, to remain silent until you can talk to him or her, and to have your lawyer present when you are being questioned.
If you want a lawyer but cannot afford one, one will be provided to you without cost.
Do you understand each of these rights I have explained to you?
Now that I have advised you of your rights, are you willing to answer my questions without an attorney present?
Aqui fica um artigo da Máxima, sobre o nosso próximo livro, enviado pela Ana:
Mafalda Ivo Cruz recebe Grande Prémio de Romance e Novela 2003
Lusa
A escritora Mafalda Ivo Cruz recebeu hoje, em Tróia o Grande Prémio de Romance e Novela 2003 da Associação Portuguesa de Escritores (APE), pelo seu romance "Vermelho". Na cerimónia, o Presidente da República, Jorge Sampaio, apelou à valorização da língua portuguesa.Na entrega do Prémio, Jorge Sampaio afirmou que a língua portuguesa deve ser considerada "uma prioridade, não apenas retórica, mas efectiva". "Quer isto dizer, com meios, com ambição, com estratégia, com vontade", sublinhou o chefe de Estado.Fazendo a ligação deste prémio com a Cimeira dos Países de Língua Portuguesa, em que participou na passada semana em São Tomé e Príncipe, o Presidente da República salientou o trabalho que alguns desses países fazem na promoção da língua portuguesa, nomeadamente através da pressão para que o português seja língua oficial em organismos internacionais."Este é o grande elo civilizacional com que nós temos assinalado a nossa presença no mundo", frisou.Sobre a premiada na 22ª edição do prémio, a cuja entrega Sampaio habitualmente preside, o Presidente salientou a juventude de Mafalda Ivo Cruz e o facto de ser mulher."Sabendo-se que a arte visa o universal, o aparecimento de tão boas escritoras não deixa de ser sintomático da transformação da nossa sociedade", destacou Sampaio, elogiando o papel do mecenato na solidificação da cultura portuguesa.Mafalda Ivo Cruz foi galardoada pelo seu romance "Vermelho" e reconheceu a importância deste prémio, até pelo valor monetário: 15 mil euros."Este prémio é uma grande ajuda: permite aos escritores que o recebem criar um espaço vital, sem interferir no seu trabalho", afirmou a autora aos jornalistas no final da cerimónia, lembrando que a profissão de escritora "é extremamente mal paga".O Grande Prémio de Romance e Novela é atribuído pela Associação Portuguesa de Escritores desde 1982 e já premiou autores como Virgílio Ferreira, Agustina Bessa-Luís, António Lobo Antunes ou Lídia Jorge.Patrocinam este galardão a Fundação Calouste Gulbenkian, o Instituto Camões, o Ministério da Cultura, a Sociedade Portuguesa de Autores, a Imprensa Nacional Casa da Moeda, a Câmara de Grândola e a Torralta.O júri que escolheu a obra, por maioria, foi este ano constituído por Margarida Braga Neves, Eduardo Prado Coelho, José Carlos Seabra Pereira, Júlio Moreira, José Correia Tavares e Maria Isabel Barreno.Mafalda Ivo Cruz nasceu em finais dos anos 50, concluiu o curso de piano no Conservatório de Lisboa, foi bolseira do Governo francês durante três anos, em Paris, e dedicou-se ao ensino em Portugal e em França.Sobrinha do maestro Manuel Ivo Cruz, foi colaboradora de algumas publicações periódicas, caso do suplemento "Mil Folhas" do jornal Público, da revista Rodapé, da Biblioteca de Beja, e da Colóquio-Letras."Um requiem Português" (1995), "A Casa do Diabo" (2000) e "O Rapaz de Boticelli" (2002) são algumas das suas obras já publicadas.
Mafalda Ivo Cruz - A dança da escrita
por Leonor Xavier -fotografia de Pedro Ferreira
O que significa ser artista? Através do mundo do ballet, a escritora tenta responder a esta pergunta no seu mais recente romance. Nascer numa família de músicos colocou-a no cerne da questão.
Fala muito depressa, quase murmura mais do que diz, pula de uns para outros assuntos, diverte-se com os comentários que em paralelo vai inventando. Pelo sangue herdou o sentido de humor, a criatividade, a imaginação que fazem da família Ivo Cruz uma referência de afectos, de momentos partilhados, de muitas histórias contadas. Desde sempre Mafalda Ivo Cruz terá ouvido essas histórias, desde pequena conviveu com a ideia de que a conversa é o centro de todas as coisas, exercício maior de inteligência.
Define-se como conservadora no rigor da educação e também desde sempre co-nheceu a arte como razão de ser, profissão e modo de vida, numa família que vai já na quarta geração de músicos. Depois do curso de piano feito no Conservatório de Lisboa, foi pianista e bolseira do governo francês em Paris, cidade onde viveu desde os anos 80 até 1999, quando voltou para Portugal.
Sem imaginar que lhe pudesse acontecer, a escrita surprendeu-a: "Vejo-me como uma pessoa que tem a escrita como o melhor instrumento de comunicação, a imagem de escritora é um acidente, é um acaso que me aconteceu." Acaso que foi considerado uma fantástica revelação, pelas críticas elogiosas de Eduardo Prado Coelho e de Fátima Maldonado ao seu livro de estreia, Um Requiem Português, publicado em 1995. Autora de mais dois romances, A Casa do Diabo (2000) e O Rapaz de Botticelli (2002, ambos das Publicações D. Quixote), está agora a escrever o seu quarto livro com o apoio do Ministério da Cultura, através de uma bolsa de criação literária para o ano de 2002.
Se não tivesse sido pianista e escritora, Mafalda Ivo Cruz teria uma outra vocação perfeitamente definida: "Podia ter sido bailarina se tivesse um bom corpo e bons professores. Mas viveria sempre nesse meio que me apaixona. Faço dança todos os dias, como era pianista preciso de actividades físicas." Curiosa, inquieta, interessada, é sistemática na avaliação do mundo que nos cerca: "Não saio de Portugal desde que voltei, há três anos. Ando a ver tudo o que há a ver, vou aos espectáculos sempre com um olho crítico, de uma maneira egocêntrica, à procura do que me convém. Quando escrevemos, somos cobaias de nós próprios."
Falamos na sala de casa, desfilam inter-rupções, assuntos cruzados, sentimentos, comentários de outras casas em outros tempos, e muitas pessoas de querer bem invisíveis, a passar por ali. Não sabe Mafalda Ivo Cruz como é comovente o seu livro, pretexto para a conversa, O Rapaz de Botticelli.
Raro e requintado livro, importante, as páginas correm a construir-se e desconstruir-se. Incrível. Logo nas primeiras, um fragmento ilustra o pensamento de Mafalda Ivo Cruz: "Subi para cima do pequeno palco que nos servia para ensaiar e fiz uma variação 'Corsário'. Sem música. À medida que caía a noite. Só se ouvia o barulho surdo dos meus pés, nos saltos, e o barulho da respiração. Fazia tudo com facilidade, embora me sentisse tenso. A respiração só se tornou arquejante no final. No momento em que o professor se aproximou e me entregou a minha toalha e disse com ar pensativo, 'sim, pode dançar'. E eu arquejava, dobrado para a frente com as mãos apoiadas nos joe-lhos. Tinha feito a coisa mais importante da minha vida. E então encarámo-nos e começámos os dois a rir. 'A técnica, Cage, a técnica. Sim, Efron Cage, pode dançar.'"
"O livro passa-se todo no ambiente do ballet e bastidores. É um testemunho inspirado pela história dos bailarinos, é um livro de amor, é uma maneira de guardar as coisas e de contar as pessoas, é um álbum de família. Há um caroço sobre o qual se vão alargando camadas. Se me perguntarem quem é que inspirou o papel principal, digo que essa pessoa não existe, que é uma articulação de várias coisas e de várias pessoas reais. Mas antes de mais, gostava de falar do Alexei, um bailarino que aparece no livro e que tem uma história muito interessante. Ele é russo, cresceu no Ballet Bolchoi, foi para lá pequeno, preparado para fazer uma carreira na dança. A avó nasceu em 1904 e vivia numa grande casa da família, uma daquelas casas aristocráticas que depois da Revolução foram ocupadas e divididas em apartamentos comunitários. Em 1917, ela tinha 13 anos e estudava piano." Foi o ano da revolução na antiga União Soviética.
Mafalda Ivo Cruz - A dança da escrita
por Leonor Xavier -fotografia de Pedro Ferreira
"Quando vieram os comissários despejar a casa, havia um piano de cauda de concerto que não cabia nas escadas, e por isso atiraram-no do terceiro andar. Enquanto viveu, a avó ouvia sempre aquele estrondo do piano a partir-se todo na rua. Em 1936, ela foi deportada para o Cazaquistão, considerada inimiga do povo por ter casado com um estrangeiro, apesar do marido ter sido fuzilado nos anos 20. Quando era mais crescida, ela fazia dança. O Alexei é parecido com a avó, identifica-se com ela. Entretanto, o pai, que era um cientista pró--Brejnev e que fazia bombas, passou a pertencer à classe da nomenclatura, o que dava à família uma vida protegida, fácil, com férias no Mar Negro e todo o conforto. Em 1989, o Bolchoi desfez-se, os bailarinos começaram a emigrar, ele foi para a Grécia, onde ficou algum tempo antes de vir para a Companhia de Dança de Lisboa. Apaixonou-se por uma portuguesa, resolveu ficar em Portugal. Depois de ter saído da CDL, foi percebendo as dificuldades da vida fora da Companhia, o que é muito duro para um bailarino que nunca tinha tido contacto com esta realidade. Começou a dar aulas, é o meu professor de dança, estava a morrer de saudades de dançar, reuniu um grupo de oito pessoas que formaram o Projecto Fokine, para fazer ballet clássico, hoje quase banido porque tudo é dança contemporânea. Começaram a trabalhar sem ajudas nem subsídios, fizeram um guarda-roupa inteiro com todo o dinheiro que tinham. Foram à Guarda, não havia condições para o espectáculo mas apesar disso fizeram-no, ninguém teve o menor cuidado com eles, a sala estava quase vazia, não os acompanharam ao comboio, da Câmara Municipal apareceu um representante. Foi uma solidão. O Alexei tem paixão por aquilo que faz, é mal pago mas vive com essa paixão, isso é muito bonito. Trabalha, é muito mais culto que os europeus."
Os elementos do Rapaz de Botticelli vão-se desenhando, através das reflexões de Mafalda Ivo Cruz, em alusões e descrições, são o conjunto variado de experiências vividas, de ambientes, de glórias e fracassos, numa sequência nem sempre lógica. Almada Negreiros tem um espaço na narrativa, com as suas facetas de bailarino e coreógrafo.
"Fiz um trabalho sobre o Nijinsky. A partir desse artigo, o Luís Gaspar [ilustrador] telefonou-me por causa da ligação de grande amizade que o Almada Negreiros teve na juventude com a minha avó. Começaram a juntar-se coisas: a minha avó e uma das mi-nhas tias fizeram um jornal chamado Paradoxo. Pelo Gonçalo Melo Breyner conheceram o Almada, e transformaram o seu clube de meninas num clube futurista. O Almada fez a coreografia de uns bailados que elas dançaram, com músicas de Schumann e Grieg também escolhidas por ele. Na época, o Almada teve uma paixão pela minha tia, que tinha 16 anos, e a minha avó no meio dos dois fingia que não sabia de nada."
A entrevista que no livro é feita por Mariana ao crítico de arte Delfim Sardo, sem lhe alterar o nome, foi na realidade uma conversa de Mafalda Ivo Cruz com "um professor que é adorado pelos alunos e que é uma pessoa adorável", num ambiente de grande emoção, como conta: "Durante essa conversa, estava irritada com a pobreza dos bailarinos, estava a escrever sobre isso, o que é um artista e o que é a vida trágica desses profissionais que não têm dinheiro nem sequer um sindicato, que são uns corsários, uns malucos. Os bailarinos de quem eu falava queriam fazer ballet clássico, mas só há subsídios se o ballet clássico for considerado uma actividade pedagógica, o que dificilmente acontece. Estava a falar com um crítico de arte contemporânea numa atitude provocatória, cheguei a ser agressiva e ele, calmamente, como quem fala com uma aluna, disse-me: 'Ponha-se com essas coisas e ainda lhe vai acontecer como ao Jean Clair, director do Museu Picasso, que passou a escrever numa revista de extrema-direita.' Sai o Vasco Graça Moura, três meses depois, a confirmar o que o Delfim tinha previsto, com uma série de artigos em que toma posições extremamente agressivas em relação à cultura, aos subsídios, à política cultural."
E há em O Rapaz de Botticelli uma pergunta que tudo explica através de Efron Cage, o protagonista, seu auge e decadência, ou a razão de ser do livro: "Além de motivações pessoais, porque é que fazemos isto, porque é que os artistas fazem arte, como é que a gente está a lidar com coisas profundas que até podem ser perigosas, até que ponto nós lidamos com isso." Questão enunciada em escrita: "[...] E que o nosso navio era enorme. E que éramos uma fraternidade de homens e mulheres temíveis que se lançavam no mar, alguns por ganância outros porque procuravam o seu próprio renascente, o seu próprio monstro. Outros ainda porque tinham a vocação de lutar com a morte. Ou apenas porque se batiam e sabiam bater-se bem, muito bem. Muitíssimo bem, mesmo. No nosso rasto ficava um inferno de gritos e dor e sangue e luto. Mas o nosso horizonte era, claro, radioso. A mais clara das auroras. E, sim. Foi a minha vida."
O avô de Mafalda Ivo Cruz fez o curso de Direito e estudou composição na Alemanha, foi compositor e director do Conservatório Nacional. O pai, Manuel Ivo Cruz, é maestro, e a mãe, Dinorah Leitão, é pianista. Os três irmãos têm a música por motivo: Nuno é flautista na Orquestra Sinfónica Portuguesa e casado com uma flautista americana. Miguel toca viola de gamba e violoncelo na Capela Real, um conjunto de música bar-roca, e faz mestrado no Conservatório em Haia. Rui, não sendo músico, é técnico de pianos e trabalha no Teatro de S. Carlos. O sobrinho Tiago Alvim, filho de Miguel, é pianista, usando o nome da mãe. O tio, Duarte Ivo Cruz, é professor de História de Teatro no Conservatório. E a avó paterna foi uma presença essencial para a formação e personalidade desta neta mais velha: "A mi-nha avó tomou muitas vezes conta de mim, vivi muito com ela, perto dela, ao colo
dela, a sensação que me foi transmitida é a de que não compreendo bem a vida fora desse âmbito mental que ela me contava através das histórias da família Burnay, uma família muito louca, cheia de episódios movimentados. A minha avó teve uma infância fantástica e uma vida brilhante, fora das normas. Tinha uma irmã com um ano de diferença, que morreu, tinham uma ligação fortíssima. A minha avó foi educada a acreditar que tinha de ficar direita acontecesse o que acontecesse, nunca se ia abaixo."
Quando se reúnem, são talvez originais por terem em comum o tema Conservatório Nacional: "Nos almoços de família juntamo-nos todos a falar da 'loja', ficamos muito unidos a falar da Rua dos Caetanos." A música "não é uma graça" que se faça de improviso, na sala de estar. Entre os pais, hoje separados, a mesma música teria sido motivo de controvérsias: "Era uma relação crispada porque havia coisas profissionais." Vivem ao invés dos ritmos gerais: "Não há fins-de-semana, os dias acabam às três da manhã, nunca nada está pronto, é sempre preciso recomeçar."
Casada há 20 anos, o marido médico foi na vida real uma das personagens ficcionadas por José Cardoso Pires em A Balada da Praia dos Cães, e motivo de inspiração para o primeiro romance de Mafalda Ivo Cruz: "Comecei a escrever por causa da história dele, uma história bonita vista pelo lado da mãe, francesa, que era linda. No livro eu encarnei a mãe, queria protegê-lo, fui à procura das histórias de infância, dos tempos de escola. Acabei Um Requiem Português em 1994. Escrevi-o a correr, em Paris, na cozinha da casa, onde fazia tudo ao mesmo tempo. Encontrei o editor da Presença, que o publicou em 1995." O segundo li-vro, A Casa do Diabo, lançado em 2000, escrito "para continuar uma possibilidade aberta", depois de entregue, esperou muito até ver a luz do dia: "Pus o manuscrito nas Publicações Dom Quixote, esperei resposta durante um ano, estava para ser devolvido, mas afinal, em vez disso, tive uma reunião marcada com o Nelson de Matos."
Entre os escritores que tem conhecido, confessa uma admiração intensa por Leonel Brim: "Tenho um contacto muito estreito com ele, foi um encontro raro, é bem educado, é de uma imensa cortesia. E na escrita tem uma fluência, uma agilidade, uma perfeição. Em Julho de 1999, quando comecei a escrever no suplemento Leituras, do Público, fiz uma recensão sobre um livro
dele, Magistério e Desgosto, da Bizâncio. Foi um livro dificílimo, duro e agressivo, de uma grande qualidade. Depois pedi-lhe emprestado outro livro, Talvez Pinóquio, escrito há 15 anos, que não chegou a ser distribuído, que é um deslumbramento. O Leonel Brim ultrapassou a questão do ego dos escritores, que é muito complicada. Até aos 50 anos hesitou entre ser cineasta ou pintor, é casado com uma artista plástica, é um mestre."
Este ano de 2002, Mafalda Ivo Cruz não pode escrever em jornais, porque a exclusiva dedicação ao próximo romance lhe é exigida pelas regras da sua bolsa de criação literária.
"O tema do quarto livro é a loucura, é o discurso da loucura levado ao extremo", adianta. Não tem rotina, tempos certos de criação, dá ideia que tudo lhe vai nascendo por dentro, a expressão dos olhos sugere que sim. "Não sou disciplinada, escrever com prazo é uma aflição, ando sempre a correr, angustiadíssima", diz.
Sobre ser difícil de ler, não é por isso que se aflige: "Dizem que sim, as coisas são como são, escrevo como sei escrever, não sei fazer mais fácil." Tão simples como isto. E a verdade é que quem lê o seu texto não o esquece mais, leva-o na vida real e tem-no ao vivo em extraordinários sonhos.
quinta-feira, 26 de agosto de 2004
Na sequência do aniversário de morte do nosso querido autor de momento (Truman Capote), junto ao nosso blog um artigo publicado ontém no jornal Publico. Boas leituras.
Truman Capote Por KATHLEEN GOMESQuarta-feira, 25 de Agosto de 2004
O encantador e a serpente
Sobre Truman Capote, James Wolcott escreveu na revista "Vanity Fair" que "ele tanto era o encantador de serpentes como a própria serpente". É uma dessas definições invejáveis, verdadeiramente "à la Capote": eficaz, certeira, profunda, mordaz.
De Capote se pode dizer uma e outra coisa: por exemplo, que foi um autor que fez da escrita uma experiência estética, e que foi um "poseur", um arrivista dado às mundanidades que só tinha um objectivo em mente - a fama.
Uma forma de resumir este Truman Capote dois-em-um é dizer que foi a mais fascinante figura literária da era dos "talk-shows". As suas primeiras e últimas aparições televisivas constituem a cartografia da ascensão e queda de um mito, entre o menino-prodígio que nos anos 50 minimizou a obra de Jack Kerouac ("não é escrita - é dactilografia") e o velho que se tornara um embaraço no final da década de 70 e que apareceu bêbado num programa de televisão depois de ter pedido ao apresentador para não falar dos seus problemas de alcoolismo.
Um e outro - o encantador e a serpente - não perderam o fascínio, 20 anos após a morte de Truman Capote. Por causa de um e de outro, ainda há quem resista em incluí-lo entre os grandes escritores norte-americanos do século XX. "Enfant terrible" da literatura americana do pós-guerra é aceitável, mas "grande escritor"?
Não ajuda que Capote tenha produzido uma obra mais ou menos dispersa, mais ou menos irregular, quase sempre sob a forma de pequenas narrativas (contos, novelas, ensaios), que não chegasse a terminar o seu prometido "opus" proustiano, que tivesse a pretensão de aproximar o jornalismo da arte literária.
Não ajuda, enfim, que as suas aspirações incluíssem "ser rico e famoso". "Eu tinha que ter sucesso e tinha que tê-lo cedo", afirmou em 1978. "O que acontece com pessoas como eu é que sempre soubemos o que íamos fazer. Muitas pessoas passam metade da vida sem saber. Mas eu era muito especial e tinha de ter uma vida especial. Não fui destinado a trabalhar num escritório ou algo do género, embora fosse certo que teria êxito no que quer que fizesse. Mas sempre soube que queria ser um escritor e que queria ser rico e famoso."
Ascensão...
E, apesar de tudo, criou e solidificou um estilo. No prefácio de "Música Para Camaleões" (1980) diz que pretendia alcançar "a credibilidade dos factos, a imediatez do cinema, a profundidade da prosa e a exactidão da poesia". As três últimas, pelo menos, são visíveis em "A Sangue Frio" (1965), espécie de texto sagrado da "nonfiction novel", da "reportagem narrativa".
Lendo entrevistas do autor à altura, e outros textos seus, tem-se a impressão de que foi um romance - de não-ficção, como dizia, mas ainda assim um romance - feito para provar uma teoria: a de que "a reportagem podia ser tão interessante e tão artística quanto a ficção".
Capote já tinha feito um ensaio com "Ouvem-se as Musas" (1956), relato da viagem à URSS da companhia de teatro americana de "Porgy and Bess", que é também um fresco sobre os equívocos e "clichés" com que a América via os russos e vice-versa.
Além disso, Capote tinha treinado intensamente a memória para não precisar de gravadores nem de blocos-de-notas nas entrevistas e reportagens. Para que nada interferisse entre predador e presa. Quando, a 16 de Novembro de 1959, o "New York Times" publicou uma pequena notícia sobre um homicídio múltiplo numa quinta isolada do Kansas, Capote partiu de comboio para o Midwest e durante seis anos trabalhou em "A Sangue Frio", recolhendo testemunhos, verificando pistas, privando com os assassinos até à execução da pena de morte.
O resultado foi uma obra sem precedente, que, numa extraordinária combinação de montagem paralela e detalhe, condensava uma espécie de fim trágico do sonho americano - as vítimas, os Clutter, pai, mãe, filha e filho, personificavam um modelo exemplar da família americana.
Norman Mailer, autor de "A Canção do Carrasco", no que viria a ser um dos episódios da célebre inimizade que o unia a Capote, descreveu "A Sangue Frio" como uma "falha de imaginação", pressupondo que um verdadeiro romancista deveria escrever sobre o seu imaginário e não sobre a realidade.
O que seria produto de intriga, mais do que qualquer outra coisa: um dos sortilégios de "A Sangue Frio" é a moldura tão impossivelmente real das personagens (mas tão potencialmente ficcional), a omnisciência do autor, a sua capacidade para reproduzir, por exemplo, os pensamentos de uma rapariga de 16 anos, Nancy Clutter - em suma, a sua habilidade para transcender a realidade.
Sobre a "credibilidade factual" que Capote tanto defendeu, cite-se o "Auto-retrato", de 1972 (incluído em "Os Cães Ladram", ed. Relógio d'Água): "A arte e a verdade não são necessariamente parceiros sexuais compatíveis."
A verdade é que Norman Mailer fez parte de uma minoria. "A Sangue Frio" foi pré-publicado em série na revista "New Yorker", estabelecendo um recorde de vendas, e o livro vendeu mais de 300 mil exemplares, permanecendo 35 semanas na lista de "best-sellers" do "New York Times". Capote, que já tinha ampla notoriedade, tinha conseguido: era rico e famoso.
Comemorou o êxito com um baile de máscaras no Plaza Hotel, Nova Iorque, em 1966: o "Black and White Ball", também conhecido como "a última grande festa americana", foi uma festa para mais de 500 "escolhidos", entre estrelas de Hollywood e uma elite aristocrática.
"A Sangue Frio" valeu-lhe um contrato milionário com a Random House, para um livro que o autor teria de entregar em dois anos. Ressentido pelo facto de o Pulitzer e o National Book Award terem ido para Mailer, Capote projectou o que ambicionava ser o seu legado canónico, uma espécie de "Em Busca do Tempo Perdido" contemporâneo, baseado nos seus diários, correspondência e anotações ao longo de anos: "Súplicas Atendidas".
... e queda
Viria a ser o seu eterno "work-in-progress", e um anti-clímax amargo: Capote não só não terminou o livro, como os excertos publicados na "Esquire" lhe custaram a amizade do que chamava os seus "cisnes" - mulheres da sociedade-caviar, o "jet-set" feminino com quem forjara cumplicidade tanto tempo.
Foi, sobretudo, o capítulo "La Côte Basque" que surgiu como uma traição: um relato de inconfidências feitas à mesa de um restaurante numa mistura de vícios privados, misoginia e muita, muita fofoca. Quando lhe pediram contas, respondeu: "O que é que eles esperavam? Sou um escritor e uso tudo. Será que todas aquelas pessoas pensavam que eu estava lá só para as entreter?" Capote refugiou-se no álcool e em anti-depressivos, assegurando a todos os interessados e não-interessados que continuava a trabalhar em "Súplicas Atendidas" - que permaneceu inacabado e foi publicado postumamente, em 1986, com os mesmos capítulos que tinham aparecido na "Esquire".
Morreu a 25 de Agosto de 1984, a pouco mais de um mês de completar 60 anos, em Los Angeles, na casa da amiga Joanne Carson, ex-mulher do apresentador de "talk-shows" Johnny Carson. No seu obituário, pelo sim pelo não, o "New York Times" citava o comandante da polícia de L.A.: "Não há qualquer indicação de que seja uma partida." Porque, afinal, Capote era capaz de tudo pela fama.
Andy Warhol relata nos seus diários que, em 1978, o "New York Times" publicou um artigo sobre Capote com uma fotografia "que não parecia Truman". "Parecia a mãe dele. Ele estava de pé na relva, com um chapéu de palha e um lençol que o fazia parecer grávido. (...) Ele disse: 'Olha, sou eu. Gostas?' E enquanto isso falava do artigo, que mencionava a palavra 'declínio'. E ele disse: 'Declínio? Que declínio? Sou o escritor sobre o qual mais se escreve no mundo.'"